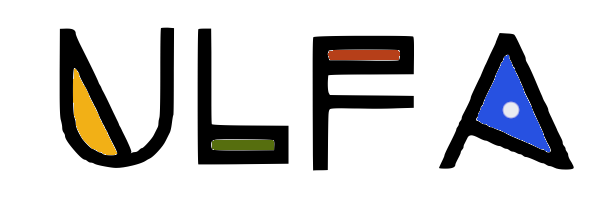Jornal da USP - 13/01/2026 às 16:09
Texto: Márcia Carini, da Revista Pesquisa FAPESP*

Construído nos anos 1940, o Conjunto Residencial da Mooca foi um dos objetos de estudo da professora Flávia Brito do Nascimento – Foto: Viva Mooca/Oliveira Santos Ferrari
“Tinha o fogão […]. Tinha um fogão ali, entendeu? Já colocavam em cada unidade um fogão. Olha que coisa!”, conta o bancário aposentado Lismar Fonseca, morador do Conjunto Habitacional Santa Cruz, na Vila Mariana, bairro de São Paulo. No depoimento concedido em 2015 à historiadora e arquiteta Flávia Brito do Nascimento, ele relembra o maravilhamento da mãe ao chegar na década de 1940 ao imóvel recém-construído e deparar-se com o eletrodoméstico, oferecido como parte integrante da nova casa.
A entrevista é uma das mais de 50 realizadas na década de 2010 por Nascimento, professora da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo e de Design (FAU) da USP, com moradores de quatro conjuntos habitacionais paulistas: Residencial da Mooca, Várzea do Carmo e Santa Cruz, situados na capital, e Vila Guiomar, em Santo André, na região metropolitana. A história oral foi parte fundamental de sua pesquisa de livre-docência apresentada em 2022 na USP, que deu origem ao livro Cotidiano conjunto: Domesticidade e patrimonialização da habitação social moderna, lançado em 2025 pela Edusp, com apoio da Fapesp.
Entre outros pontos, Nascimento analisa a moradia popular erguida entre os anos 1940 e 1960 nas cidades do Rio de Janeiro e de São Paulo. O período é conhecido como o auge da arquitetura moderna no País. “Os conjuntos habitacionais se tornaram agenda de Estado com a ascensão de Getúlio Vargas [1882-1954] ao poder em 1930 e essa política ganhou força a partir do Estado Novo [1937-1945]”, conta Nascimento. “Na concepção varguista, a organização do trabalho passava também pela estruturação de uma moradia. Os arquitetos modernos brasileiros vão encontrar nessa política de moradia social um lugar para colocar suas ideias em prática, muito pautadas pela racionalização dos espaços.”

Segundo a pesquisadora, até o início da ditadura militar (1964-1985), o ciclo de construção de moradias sociais no País foi conduzido, em grande parte, pelos institutos de aposentadorias e pensões de diversas categorias profissionais, que estavam sob a tutela do governo federal. “Os institutos disponibilizavam unidades de moradia aos afiliados, que eram apenas alugadas e não vendidas, mediante desconto em folha de pagamento”, esclarece Nascimento. “Esses conjuntos habitacionais foram construídos em várias partes do Brasil.”

Os conjuntos habitacionais visitados em São Paulo pela arquiteta durante a pesquisa foram iniciativas do Instituto de Aposentadoria e Pensões dos Industriários (Iapi) e do Instituto de Aposentadoria e Pensões dos Bancários (IAPB). “Em geral, os trabalhadores sindicalizados inscritos eram pessoas de baixa renda e precisavam ter uma família ou serem casados para poder morar no apartamento”, diz a arquiteta.
Um dos focos do livro é discutir o lugar da mulher nesse tipo de moradia. “Algumas das moradoras dos conjuntos eram donas de casa que também trabalhavam fora, como operárias, por exemplo. Os arquitetos ensaiaram uma série de experimentações com o espaço doméstico e a organização da casa até chegar a um modelo comum com a meta de facilitar a vida dessas pessoas”, prossegue Nascimento.
As mulheres solteiras eram exceção no universo habitacional promovido pelo Estado, como lembra a pesquisadora. “Para os solteiros e solteiras, houve projetos de conjuntos específicos, embora em número reduzido, a exemplo da Casa da Bancária, projeto do escritório Irmãos Roberto Arquitetos construído no final dos anos 1950 pelo IAPB, no Rio de Janeiro”, relata. “O imaginário das mulheres moradoras da Casa da Bancária representado pelo arquiteto e artista visual Carlos Leão [1906-1983] nos desenhos do projeto era libertário e sedutor.”
Isso não era visto no conteúdo veiculado em revistas publicadas entre os anos 1930 e 1960 pelas entidades de classe e enviadas para seus associados no Brasil. Nas páginas desses periódicos, que tratavam de assuntos variados, as mulheres apareciam trabalhando fora de casa, mas, como defende um artigo da seção Página Feminina, na Revista dos Inapiários, “sem abrir mão de suas habilidades inatas para o ambiente doméstico”. “Esses projetos habitacionais tinham ambição formativa e as revistas ajudavam a divulgar a conduta que era esperada das mulheres dentro da moral cristã e dos valores trabalhistas”, informa a arquiteta.

Segundo a pesquisadora, o Estado promoveu essa política habitacional a partir dos anos 1930 visando não apenas ao bem-estar social. “Era também uma forma de interferir na vida privada dos trabalhadores”, constata.
Nesse sentido, o livro busca entender quem eram as mulheres que ajudaram a elaborar essa política habitacional no Brasil e não apenas em âmbito federal. O caso mais emblemático é o da engenheira Carmen Portinho (1903-2001), diretora entre 1948 e 1960 do Departamento de Habitação Popular (DHP), órgão da Prefeitura do Rio de Janeiro. No momento, sua trajetória é revisitada pela exposição Carmen Portinho: Modernidade em construção, que fica em cartaz até março de 2026 no Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro (MAM-RJ).
Portinho é uma das profissionais ligadas ao universo da construção perfiladas no livro Mulheres, casas e cidades, da arquiteta argentina Zaida Muxí Martínez, professora da Escola Técnica Superior de Arquitetura de Barcelona, na Espanha. A obra foi lançada no Brasil em 2024, pela editora Olhares. “Antes de se formar em engenharia em 1925, Carmen já era ativa nos movimentos feministas e questionava a suposta vocação natural da mulher para tarefas domésticas”, disse a arquiteta, em entrevista à Pesquisa FAPESP. “Ao ganhar uma bolsa de estudo e ir para a Grã-Bretanha em 1945 participar da reconstrução de cidades inglesas no pós-guerra, ela passa a ter a certeza de que a igualdade de direitos também estava ligada à arquitetura e ao urbanismo.”

A cientista social Silvana Rubino, do Departamento de História da Universidade Estadual de Campinas (Unicamp), conta que Portinho teve a ideia de fazer o Conjunto Residencial Prefeito Mendes de Morais, conhecido como Pedregulho, após essa temporada na Europa. Inaugurada em 1950, no bairro São Cristóvão, a construção foi desenhada pelo arquiteto Affonso Eduardo Reidy (1909-1964), companheiro da engenheira e então diretor do Departamento de Urbanismo da prefeitura carioca. “O projeto teve grande participação de Carmen, embora não leve sua assinatura”, afirma Rubino.
A engenheira buscava nos projetos de moradia do DHP simplificar os espaços das casas para as moradoras. Exemplo disso é a lavanderia coletiva do Pedregulho. “Em consonância com o pensamento moderno, ela propunha que a ‘mão cansada’ da mulher trabalhadora que habitaria o conjunto não deveria encontrar um tanque em cada unidade, e sim uma lavanderia para todos, eventualmente ocupada por trabalhadoras remuneradas para fazer aquele serviço”, conta Rubino, que em sua tese de livre-docência apresentada em 2017 analisou, entre outras, a trajetória de Portinho.
Entretanto, a lavanderia coletiva logo se tornou motivo de polêmica. Isso porque o equipamento, que contava com máquinas de lavar importadas dos Estados Unidos, situava-se em uma edificação à parte, onde ficava também o mercado. Segundo Nascimento, a exposição das roupas surradas e o trabalho de levá-las para lavar fora encontraram resistência entre uma significativa parcela dos moradores do Pedregulho. “As pessoas passaram a improvisar a lavagem da roupa da família em baldes e bacias dentro dos apartamentos”, acrescenta Rubino.