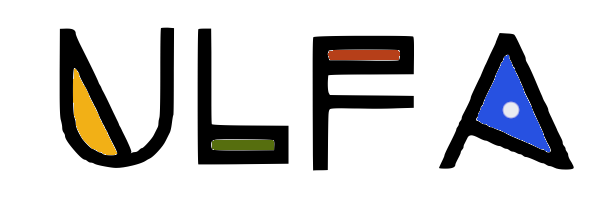Viviana Alves, Maria Luiza Mendes e Ynaê Lopes dos Santos, mulheres presentes na Marcha das Mulheres Negras de 2025.
— Lucas Silva/Alma Preta
-
 Camila Rodrigues da Silva - ALMA PRETA - 25 de novembro de 2025
Camila Rodrigues da Silva - ALMA PRETA - 25 de novembro de 2025
“Quem somos nós para dizer para o mundo que há outros mundos?”
Brasília – A questão é da jornalista Rosane Borges, que lançou o livro “Imaginários emergentes e mulheres negras: representação, visibilidade e formas de gestar o impossível” na noite desta segunda-feira (24). Ela trouxe para um público de centenas de mulheres que a ouviam no Cine Brasília uma pergunta que não traz dúvidas, mas estimula a ação e as possibilidades de novas formas de viver e agir para além do que se tem vivido.
E são essas possibilidades que saem das bocas de todas as mulheres que estão em Brasília para participar da segunda Marcha das Mulheres Negras, nesta terça-feira (25). A concentração acontece a partir das 9h em frente ao Museu Nacional e são esperadas milhares de mulheres de todo o Brasil.
Durante o evento, a Alma Preta entrevistou criadoras de alguns dos mundos possíveis. Uma delas é a assistente social Maria Luiza Mendes, 61, que milita pela economia solidária em São Luiz do Maranhão. O conceito, ela explica, é um caminho para criar uma economia alternativa à do sistema capitalista, com novas lógicas de produção e de consumo.
“A economia solidária é um contraponto. A economia solidária tem princípios. Ela discute mercado, discute finanças, ela tem seu sistema. As finanças são os bancos, a moeda social, então ela é completa”, afirma.

Maria Luiza Mendes. Foto: Camila Rodrigues da Silva/Alma Preta
Por conta da idade, ela veio antes, de avião para acompanhar a Marcha das Mulheres Negras. Do Maranhão vem um grupo de 12 ônibus, com mulheres que chegaram no dia 24 de novembro à noite, ou 25 de novembro pela manhã.
Em 2015, aconteceu a primeira edição nacional da Marcha das Mulheres Negras sobre Brasília. Naquele ano, segundo as organizadoras, 100 mil estiveram na capital federal para denunciar o racismo, o machismo e demandar pelo bem viver. Hoje, o movimento se repete na capital federal.
Reconhecendo avanços, Jurema Werneck, diretora da Anistia Internacional, destaca mudanças no debate político brasileiro desde a primeira marcha, em 2015.
“Dez anos atrás, a gente disse, mulher negra é essa potência. Como lembrou a própria Rosane Borges, como lembra sempre, nosso mundo existe, é muito mais potente, é calcado no bem viver, na experiência histórica das mulheres negras, e a gente precisa recolocar isso aqui na arena do Brasil, para o Brasil aprender a ser diferente”, explicou.
Outra que acredita em um mundo diferente é Ynaê Lopes dos Santos, 43, professora de História da Universidade Federal Fluminense (UFF). Feliz por ver Brasília, a capital federal do país, ocupada por mulheres negras, ela se apresenta como uma pessoa que acredita nas utopias.
“Eu sou uma pessoa que acredita muito no poder transformador das revoluções. E eu acho que ninguém tem mais gabarito para fazer essa revolução do que as mulheres negras”.

Ynaê Lopes dos Santos. Foto: Camila Rodrigues da Silva/Alma Preta
Os sonhos não se restringem ao território brasileiro. Viviana Alvez, educadora sexual e pesquisadora da área de psicologia, é uruguaia. Ser mulher negra, contudo, parece ser mais importante do que qualquer bandeira nacional.
“A gente veio participar da marcha, viemos três dias antes para participar dos debates aqui no Brasil, viemos para empoderar a nossa negritude, para marchar junto das brasileiras e de todas partes do mundo. Eu quero que essa marcha passe por todo o meu corpo, que vá fluindo”, disse ela sobre as expectativas.

Viviana Alves. Foto: Camila Rodrigues da Silva/Alma Preta
Além da marcha, está prevista para a manhã desta terça uma sessão solene com os parlamentares da Bancada Negra da Câmara de Deputados.
Apoie jornalismo preto e livre!
O funcionamento da nossa redação e a produção de conteúdos dependem do apoio de pessoas que acreditam no nosso trabalho. Boa parte da nossa renda é da arrecadação mensal de financiamento coletivo.
Todo o dinheiro que entra é importante e nos ajuda a manter o pagamento da equipe e dos colaboradores em dia, a financiar os deslocamentos para as coberturas, a adquirir novos equipamentos e a sonhar com projetos maiores para um trabalho cada vez melhor.
O resultado final é um jornalismo preto, livre e de qualidade.
O que é reparação histórica para a Marcha das Mulheres Negras?

— Arte: Daniel Pereira/Alma Preta.
-
 Dindara Paz - Alma Preta - 24 de novembro de 2025
Dindara Paz - Alma Preta - 24 de novembro de 2025
Quando se fala em reparação histórica, o que é possível imaginar para as mulheres negras? No mês do Novembro Negro, a Alma Preta ouviu lideranças e ativistas da Marcha das Mulheres Negras para entender quais são os caminhos para adoção de medidas reparatórias da população negra no Brasil.
Este ano, a Marcha realiza a 2ª edição com caráter nacional e internacional com participação de movimento de mulheres negras das 27 unidades federativas do país e ao redor do mundo com o lema pela Reparação e o Bem Viver. A marcha acontece no dia 25 de novembro em Brasília.
Atualmente, o movimento negro e parlamentares articulam a Proposta de Emenda à Constituição (PEC) 27/24, chamada de “PEC da Reparação“. O texto propõe a criação de um fundo nacional de R$ 20 bilhões para Reparação Econômica e de Promoção da Igualdade Racial, além da responsabilização financeira do Estado brasileiro pelos prejuízos históricos causados à população negra.
Segundo o texto da PEC 27/24, uma das fontes de recursos financeiros do Fundo serão as indenizações a serem cobradas das empresas que, reconhecidamente, lucraram com a escravidão da população negra brasileira no Brasil.
Uma dessas empresas é o Banco do Brasil. Em 2023, o banco foi alvo de um inquérito inédito do Ministério Público Federal (MPF) que apurou o envolvimento e a responsabilidade histórica da instituição no tráfico e escravidão de africanos no país durante o século 19.
No mesmo ano, a instituição reconheceu sua dívida histórica e pediu perdão ao povo negro no país e se comprometeu a adotar medidas de reparação.
Em abril de 2025, o Banco do Brasil divulgou um relatório com 114 iniciativas voltadas à promoção da igualdade racial. Entre elas estão o apoio à infraestrutura de unidades educacionais em comunidades periféricas e quilombolas, fomento à diversidade no ingresso de novos colaboradores no concurso da empresa, além da criação de um edital específico para seleção de expositores em espaços dedicados à memória da escravidão.
Reparação requer ressarcimento financeiro
Um dos caminhos da reparação passa por exigir um ressarcimento financeiro do Estado. Isso inclui instituições públicas como o Banco do Brasil, analisa Tássia Mendonça, cientista social e consultora em filantropia para movimentos de mulheres negras.

Tássia Mendonça, cientista social e consultora em filantropia para movimentos de mulheres negras. Foto: Divulgação/Unite Academy.
“Não bastam ações do campo da representação artística ou do financiamento de cultura. A gente quer acesso a crédito. É saber o quanto o Banco do Brasil lucrou com a população negra e o quanto que ele deixou de investir nessa população, seja no desenvolvimento econômico, no acesso a casas e no desenvolvimento de negócios liderados por pessoas negras”, avalia Mendonça.
Ela pontua que a discussão sobre reparação histórica para a população negra no Brasil encontra referências em experiências internacionais concretas de políticas reparatórias implementadas ao longo do século 20.
O caso das robustas políticas instituídas no pós-Segunda Guerra para o povo judeu, como a instalação de museus, políticas de memória e reassentamento, serve como um marco fundamental, apesar das diferenças inerentes às catástrofes humanitárias da escravidão transatlântica e do genocídio, destaca Mendonça.
“As empresas que lucraram com o trabalho do povo judeu em campos de concentração tiveram que tomar tais medidas para ressarcir essa comunidade. São medidas de ressarcimento individual, familiar, mas também coletivas sobre como falar dessa história, sobre políticas públicas que precisam ser implementadas para que isso não ocorra”, avalia a cientista social.
Mulheres negras precisam participar da mesa de decisões
Para entender o debate em torno do conceito de reparação histórica, integrantes do movimento pontuam que as mais de três séculos de escravidão no Brasil provocaram desigualdades raciais e de gênero que resultaram em desigualdades sociais e violências, especificamente às mulheres negras, como a violência sexual.
Nesse contexto, a pesquisa “DNA do Brasil”, da Universidade de São Paulo (USP), identificou que o DNA masculino da população brasileira é majoritariamente de homens europeus, enquanto o DNA feminino tem origem principalmente em mulheres africanas e indígenas.
A historiadora e pesquisadora de lutas abolicionistas e pós-abolicionistas, Luciana Brito, considera que o resultado da pesquisa reflete o histórico de abusos sexuais e violências ao qual as mulheres negras estão submetidas.

Luciana Brito, historiadora e pesquisadora de lutas abolicionistas e pós-abolicionistas. Foto: Arquivo pessoal.
“Historicamente, essa nação escravista, violenta, racista, misógina, que odeia mulheres, em especial mulheres negras e indígenas, nos deve um estado dessa tal real democracia: um estado de cidadania, de cuidado, de uma vida segura, saudável, com a infância, vida adulta e as velhices garantidas”, observa a especialista.
O rompimento dessas estruturas passa também por exigir do Estado a proteção de lideranças negras para evitar que casos como o da vereadora Marielle Franco e de Mãe Bernadete voltem a acontecer, observa a cientista social Tássia Mendonça.
“O Estado brasileiro, da maneira como está organizado, não está só falhando com a população negra. Ele está ativamente contribuindo para o extermínio da juventude negra, para o assassinato e para a morte das nossas lideranças”, destaca.
Políticas públicas como reparação
Para aproximar o debate da reparação às mulheres negras, é preciso pensar no aprimoramento de políticas públicas que garantam o direito a serviços de assistência como o Bolsa Família; à educação, como as cotas nas universidades; e a políticas de saúde para mulheres negras é crucial para a Marcha das Mulheres Negras.
Apesar do avanço, Brito observa que essas políticas estão sob ataque e aponta a necessidade para o combate dos discursos conservadores que enxergam as mulheres negras como aquelas que oneram o Estado.
“Há uma série de pesos sociais nas costas de mulheres negras […]. É preciso que mulheres negras façam parte da mesa de decisões para que outras políticas sejam criadas e para garantir o aprimoramento e a existência dessas que já existem”, conclui a historiadora.
A valorização de figuras históricas, principalmente heroínas negras como Maria Felipa, Aqualtune e Dandara dos Palmares, também é apontada como uma das propostas de reparação no campo da memória e da valorização dos saberes ancestrais de mulheres negras.
Para Naiara Leite, ativista do movimento de mulheres negras, jornalista e coordenadora executiva do Odara – Instituto de Mulheres Negras, a disputa desse campo é necessária para que outras imagens sejam construídas para as atuais e futuras gerações.
 Naiara Leite, ativista do movimento de mulheres negras, jornalista e coordenadora executiva do Odara – Instituto de Mulheres Negras. Foto: Divulgação.
Naiara Leite, ativista do movimento de mulheres negras, jornalista e coordenadora executiva do Odara – Instituto de Mulheres Negras. Foto: Divulgação.
“A gente quer outras imagens, outros símbolos do ponto de vista da nação brasileira. A gente precisa reconhecer essa história e precisa se reconhecer”, comenta.
Bem Viver como horizonte
O conceito de Bem Viver é proposto na agenda da Marcha das Mulheres Negras como uma nova estrutura social baseada na justiça socioambiental, com a titulação de terras indígenas e quilombolas; na desmilitarização como forma de garantir a vida da população negra; e na valorização dos saberes ancestrais em contraponto às atuais estruturas históricas de violência, racismo e desigualdade no Brasil.
Ao vincular a reparação ao Bem Viver, o movimento faz um convite para que o Estado se responsabilize pelo seu passado e presente violento e garanta uma vida digna, segura e saudável para as mulheres negras e suas famílias.
Leite reflete que a Marcha deixa de legado a inclusão da reparação nas agendas contínuas de luta.
“Se não reparar não tem vida negra, não tem sonho, não tem política afirmativa que tenha um efeito para a gente garantir o mínimo equilíbrio do ponto de vista de uma ideia de equidade na sociedade brasileira”, opina.
Já Brito enxerga o Bem Viver como ações concretas de comprometimento com a vida das mulheres negras, a exemplo da adoção de políticas de combate à pobreza, de financiamento para empreendedoras negras e de equiparação de salários.
“Essas políticas, muito mais do que falas vazias de representatividade, vão garantir que as mulheres negras tenham o seu estado de vida, de cidadania e façam parte desse dito estado democrático”.
No horizonte, Mendonça posiciona o Bem Viver como a construção de um mundo sobre outros paradigmas. “O Bem Viver é a janela do futuro”, finaliza.
Apoie jornalismo preto e livre!
O funcionamento da nossa redação e a produção de conteúdos dependem do apoio de pessoas que acreditam no nosso trabalho. Boa parte da nossa renda é da arrecadação mensal de financiamento coletivo.
Todo o dinheiro que entra é importante e nos ajuda a manter o pagamento da equipe e dos colaboradores em dia, a financiar os deslocamentos para as coberturas, a adquirir novos equipamentos e a sonhar com projetos maiores para um trabalho cada vez melhor.
O resultado final é um jornalismo preto, livre e de qualidade.
Da água que some ao rio que engole: violações de direitos expõem racismo ambiental e moldam cotidiano de mulheres negras amazônidas
Impactos de obras, secas e enchentes mostram como desigualdade estrutural marca a vida de comunidades na região
- Rio Branco (AC)
- Hellen Lirtêz - Brasil de Fato

“Posso dizer muito firme e certa: a barragem que está a 800 metros do meu território é racismo ambiental e a insegurança do meu povo, gerada por essa barragem, a diminuição do nosso território em prol da mineradora é racismo ambiental. E isso, nós vivemos diariamente.”
A definição da quilombola Carlene Printes encontra respaldo no conceito teórico que define racismo ambiental. Formulado pelo pesquisador estadunidense Robert Bullard e desenvolvido no Brasil por autoras como Tânia Pacheco e Sueli Carneiro, o termo descreve a exposição desigual de populações racializadas, indígenas e tradicionais a riscos e degradações ambientais.
No caso relatado por Carlene, a instalação de uma barragem a poucos metros da comunidade, a perda de parte de suas terras e a insegurança gerada pela presença da mineradora expressam a continuidade de um modelo de desenvolvimento que trata esses grupos como “zonas de sacrifício”. Essa forma de injustiça ambiental é também expressão do racismo estrutural, que historicamente priva esses povos do direito à segurança, ao território e à autodeterminação.
O Quilombo Boa Vista, onde a quilombola vive, está localizado na cidade de Oriximiná, no Pará, próximo à divisa com o Amazonas. Trata-se do primeiro quilombo a receber título coletivo no país, há 30 anos, em 1995. Mas a titulação não bastou para garantir soberania à comunidade. A barragem à qual a moradora se refere fica em uma vila chamada Porto Trombetas e foi implantada em 1970 pela Mineração Rio do Norte. A empresa é uma das maiores produtoras de bauxita do mundo. A matéria-prima é utilizada na produção de alumínio.
“Eu não lembro da minha vida sem a interferência da mineração”, diz Carlene, hoje com 37 anos, que cresceu em meio aos impactos das atividades minerárias da empresa.
Conforme informações do Mapa de Conflitos Envolvendo Injustiça Ambiental e Saúde no Brasil, da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), entre os danos ambientais causados na região estão a alteração no ciclo reprodutivo da fauna, alteração no regime tradicional de uso e ocupação do território, assoreamento e poluição de recursos hídricos e contaminação ou intoxicação por substâncias nocivas. A presença da atividade minerária também se relaciona a problemas de saúde da população, como doenças não transmissíveis ou crônicas, doenças respiratórias, insegurança alimentar e piora na qualidade de vida.
 Barragem em Porto Trombetas, implantada pela Mineração Rio do Norte (MRN), uma das maiores produtoras de bauxita do mundo | Crédito: Arquivo pessoal / Carlene Printes
Barragem em Porto Trombetas, implantada pela Mineração Rio do Norte (MRN), uma das maiores produtoras de bauxita do mundo | Crédito: Arquivo pessoal / Carlene Printes
Os impactos da mineração se somam ao isolamento da região, o que torna a vida das pessoas que vivem ali ainda mais difícil. Para sair ou chegar ao seu território, Carlene precisa viajar três dias de barco ou pegar um avião até Santarém (PA) e, de lá, mais 12 a 14 horas de barco.
“Tudo é muito difícil. Mesmo assim, quando há vontade política, é possível fazer. Mas quem tem o poder de decisão não busca compreender a diversidade da nossa região. Nas cidades, há acessibilidade, apoio, socorro. Mas dentro das comunidades, principalmente nesse contexto amazônico, é muito complexo”, explica.
O contexto em que as comunidades estão inseridas acentua vulnerabilidades, especialmente no caso das mulheres.
O estudo intitulado “Vulnerabilidade e Saúde de Mulheres Quilombolas na Amazônia” da Faculdade de Saúde Pública (USP), investigou as condições de saúde e os fatores de vulnerabilidade de 139 mulheres em oito comunidades quilombolas localizadas no município de Oriximiná, nas margens do Rio Trombetas. Os dados evidenciaram que elas são acentuadamente fragilizadas devido à confluência de fatores individuais, sociais e programáticos, como o baixo nível de escolaridade, a desigualdade de gênero e o acesso restrito a trabalho e renda.
No entanto, essa vulnerabilidade histórica é agravada pelos danos socioambientais da mineração. Na perspectiva de gênero, as mulheres são as mais atingidas devido às atividades cotidianas de lavar roupas, coletar comida e usar o líquido para cozinhar. A poluição da água e do ar por resíduos de bauxita é estimada como um fator que contribui para os problemas de saúde mais comuns relatados: afecções do sistema tegumentar (74,8%) e problemas respiratórios, como gripes e pneumonias (61,9%).
Para Carlene Printes, a inércia em relação à promoção de melhorias para essas comunidades também vem do apagamento regional e étnico. Enquanto periferias urbanas sofrem com enchentes e secas, mas têm algum acesso a serviços, os quilombos amazônicos enfrentam apagamento de vozes por meio das grandes distâncias e pouco acesso.
“Racismo ambiental é a ausência do Estado nos nossos territórios. É a ausência de políticas públicas, de cuidado, de zelo. É a falta de títulos, de proteção para as nossas lideranças. O tempo que poderíamos dedicar à preservação da floresta, a gente gasta tentando sobreviver diante de ameaças de fazendeiros, arrozeiros, mineradoras e garimpeiros”, diz.
O estudo sobre a vulnerabilidade das mulheres quilombolas conclui que é urgente a necessidade de políticas públicas de saúde e prevenção específicas, culturalmente adequadas à condição de gênero e ao perfil étnico-cultural das quilombolas. Para Carlene, essa precariedade não é um acaso técnico, mas parte de uma estrutura de exclusão.
“A gente não é visto como gente igual aos outros. É aquele povo quilombola ali, jogado à mercê do sistema, assim como lá na época da Lei Áurea. A lógica é a mesma. Nada mudou”, aponta.
 A ativista quilombola Carlene Printes | Crédito: Anderson Borralho / Foto cedida ao Brasil de Fato
A ativista quilombola Carlene Printes | Crédito: Anderson Borralho / Foto cedida ao Brasil de Fato
Responsabilidade pública
Operando na região, a Rio do Norte (MRN) assume papéis que tradicionalmente seriam de responsabilidade pública em comunidades quilombolas e ribeirinhas impactadas por sua operação de extração de bauxita – como fornecimento de água potável, energia elétrica e apoio à infraestrutura social.
A mineradora obteve a concessão para lavrar bauxita em Oriximiná em 6 de novembro de 1975, por meio do decreto nº 76.559 emitido pelo governo brasileiro.
Em 2024, a mineradora obteve licença prévia do Instituto Brasileiro de Meio Ambiente (Ibama) para o Projeto Novas Minas (PNM), que prevê investimentos de R$ 5 bilhões em cinco anos. A ideia seria ampliar a vida útil de sua mina por mais 15 anos, de 2027 a 2042, mantendo a produção média atual de 12,5 milhões de toneladas anuais de bauxita.
O licenciamento foi condicionado à construção do Plano de Gestão Ambiental (PGA) e Plano Básico Quilombola (PBAQ) junto às comunidades dos Territórios Boa Vista e Alto Trombetas II, que busca prevenir, mitigar e compensar os impactos levantados no Estudo de Componente Quilombola.
Conforme relatório divulgado pela empresa, em 2024 a MRN apontou que foi registrada uma taxa de 84% de aproveitamento de água nas operações da MRN. No mesmo ano, a empresa informou ter investido R$ 42,2 milhões em “ações e programas sociais” em 62 comunidades, segundo seu relatório. Em 2025, no primeiro semestre, a MRN disse que o montante de investimento foi superior a R$ 35,5 milhões em iniciativas socioambientais. Questionada especificamente sobre as denúncias de impactos apresentadas na reportagem, a empresa não retornou.
O Brasil de Fato também entrou em contato com o governo do Pará e com o Ministério da Igualdade Racial (MIR) para comentar sobre a ausência de infraestrutura nas comunidades da região do Quilombo Boa Vista. Se houver retorno, o texto será atualizado.
Corpo político
Em meio à “estrutura racista” de seu território, Carlene se define como “a mulher que se rebelou”. Hoje, de Belém, capital do Pará, onde cursa universidade, Carlene é coordenadora de Diversidade e Gênero da Coordenação das Associações das Comunidades Remanescentes de Quilombos do Pará (Malungu) e conselheira titular de Promoção de Igualdade Racial no Ministério da Igualdade Racial. Segundo ela, sua atuação política nasce da ancestralidade e da recusa em aceitar a naturalização da desigualdade.
“Meu corpo é político. Eu fui criada para me tornar liderança, sem saber que estava sendo criada para isso”. Estar na universidade, diz, é parte da luta.
“Eu não estou aqui para ter um diploma, mas para entender como funciona o sistema e poder enfrentá-lo.”
O rio que engole
“Eu sou uma mulher negra e sempre sofri, a gente sempre sofre preconceito, eu sempre sofri preconceito.”
Em 2023, a bibliotecária Edileuza Souza de Alencar, de 58 anos, moradora do Conquista, em Rio Branco (AC), acordou com sua casa alagada pelo igarapé São Francisco. Naquele ano, o bairro foi apenas um dos 36 que alagaram na cidade, sendo que destes, 28 eram periféricos, de acordo com dados da Defesa Civil municipal.
A inundação do Rio Acre prejudicou diretamente mais de 38 mil pessoas de bairros periféricos e comunidades ribeirinhas na capital acreana. O rio ficou a 6 centímetros da segunda maior cota já registrada, de 17,72 metros, e 74 centímetros para a maior marca da série histórica, de 18,40 metros, atingida em 4 de março de 2015.
 Rua em que Edileuza Alencar mora, em Rio Branco (AC), submersa pelas águas do igarapé São Francisco, em 2023 | Crédito: Arquivo pessoal / Edileuza Alencar
Rua em que Edileuza Alencar mora, em Rio Branco (AC), submersa pelas águas do igarapé São Francisco, em 2023 | Crédito: Arquivo pessoal / Edileuza Alencar
Edileuza conta que no seu bairro as enchentes ocorrem anualmente. Em 2024, por exemplo, ano seguinte, o rio atingiu 17,89 metros, mas ainda assim, ela descreve a cheia de 2023 como a mais “violenta”.
“Foi uma enchente muito rápida. Acordamos, e a água já estava dentro de casa. Estado de calamidade. Nós já passamos por muitas enchentes assim. No meu bairro, as enchentes vêm todo ano”, relata.
Em 2023, meses após a enchente, a cidade enfrentou a seca, e o Rio Acre ficou abaixo de 1,50 metros. Em 2024, foi registrada a menor cota em 53 anos: 1,23 metros. E, desde então, esse ciclo tem exigido resiliência e adaptação às mudanças do clima.
“Passamos por uma seca terrível, porque os poços secaram. Ficou difícil até para eles mandarem a água, porque o Rio Acre ficou tão seco que ficamos, assim, numa calamidade. Era pouca água que ia para as casas, porque era bem difícil, ficou realmente uma calamidade mesmo”, conta.
De acordo com os dados do Censo Demográfico de 2022, do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), a Amazônia Legal – composta pelos estado do Acre, Amapá, Amazonas, Maranhão, Mato Grosso, Pará, Rondônia, Roraima e Tocantins – abriga cerca de 9,8 milhões mulheres negras, considerando as categorias pretas e pardas. Essas mulheres representam aproximadamente 72% da população feminina total da região, proporção superior à média nacional, que é de quase 55%.
Mulher negra e mãe solo, Edileuza se encaixa no perfil de mulheres do estudo da Rede Brasileira de Pesquisa em Soberania e Segurança Alimentar e Nutricional (Rede Penssan), divulgado em 2023, que apontou que 56% das famílias chefiadas por mulheres negras reduziram o número de refeições em razão dos efeitos prolongados da seca.
Nutricídio, conceito introduzido pelo médico Llaila Afrika, destaca a relação entre racismo e alimentação, que afeta 6,2% de lares chefiados por mulheres negras no Brasil, revelando a desigualdade alimentar e a urgência de reformas sociais. Isso também significa menos água disponível para uso doméstico: beber, cozinhar, higiene, lavar roupas. Em muitos casos, é necessário ir mais longe para ter acesso ao recurso ou usar água de qualidade duvidosa. O estudo aponta que esses fatores aumentam a carga de trabalho para mulheres, pois elas são tradicionalmente responsáveis pelas tarefas domésticas.
“E aí, gente, veio a fumaça”
Quando Edileuza achou que retornaria ao cotidiano, veio a fumaça. Em 2023, o estado concentrou 91% do total registrado de focos de incêndio em 12 meses. Com isso, a concentração de poluentes no ar respirado na capital acreana estava 40 vezes acima do limite aceitável pela Organização Mundial da Saúde (OMS).
“Nós passamos tanta dificuldade com a fumaça, tivemos que parar as aulas. Ficamos tempos com as aulas paradas, porque ninguém podia tirar as crianças de casa, os adolescentes”, lembra.
Para Edileuza, tudo o que aconteceu e ainda acontece em looping com ela até hoje está ligado ao lugar onde ela mora e se relaciona ao fato de ser uma mulher negra, o que, para ela, aumenta a invisibilidade. “Por ser mulher negra, a gente sofre mais. Tem gente que consegue ajuda, mas nem tudo chega para a gente”, desabafa.
 Fumaça registrada em Rio Branco em setembro de 2024, em decorrência do elevado número de focos de calor | Crédito: Foto: Pedro Devani/Secom governo do Acre
Fumaça registrada em Rio Branco em setembro de 2024, em decorrência do elevado número de focos de calor | Crédito: Foto: Pedro Devani/Secom governo do Acre
A água da torneira é um sonho
“A seca, as enchentes, sempre afetaram a gente. Assim, é transgeracional. Desde a minha avó, que também morou aqui no bairro – uma das primeiras moradoras – a minha mãe e a mim.”
A ativista Kássia Julianna, mais conhecida como Jú do Coroadinho, prenuncia na voz o que milhões vivenciam no Brasil: “Quando alaga, perdemos tudo”. Ela mora no Coroadinho, periferia localizada em São Luís (MA). O que para muitos é “desastre climático” ou “enchente isolada”, para Julianna é história familiar.
“Meu avô pegou enchente, minha mãe perdeu móveis, casas desmoronaram”. E a cada nova chuva, a comunidade reconstitui perdas e medos.
O Coroadinho, é a 8ª maior favela do Brasil e a maior da região Nordeste, com cerca de 51.050 moradores, de acordo com o Censo de 2022 do IBGE. A favela também se destaca por ser a sexta maior em extensão territorial no país.
Ela nasce às margens do rio Bacanga, cortada pelo rio das Bicas. Algumas das maiores áreas de preservação da região estão no Coroadinho, mas a comunidade não possui parques ambientais. Sobre a realidade invisível das periferias, Julianna descreve que no Coroadinho muitas casas não têm água encanada: dependem de poços artesianos ou da compra do recurso.
“Significa não conseguir tomar um banho. A minha mãe, para ter água dentro de casa, vai ter que colocar um poço ou muitas vezes encher [um recipiente e trazer] água na cabeça, ou, por muitas vezes, não vai conseguir sair de casa porque aquela rua está alagada”, conta.
Universalizar a água tratada é um dos objetivos da justiça climática. Reduzir perdas, ampliar cobertura e garantir qualidade estão entre as metas do Objetivo de Desenvolvimento Sustentável (ODS) 6 estipulado pela Organização das Nações Unidas (ONU).
Para Julianna, não dá para falar de clima sem falar de racismo e nem falar de racismo sem falar de gênero. Racismo, gênero e desigualdade, segundo ela, estão entranhados em cada casa que inunda, cada torneira seca ou cada esgoto a céu aberto. A vivência no bairro mostrou para a moradora que o racismo ambiental incide com intensidade particular sobre mulheres negras nas periferias.
“Nós, mulheres negras, estamos na base da pirâmide. Enfrentamos racismo, machismo, desigualdade social. Estamos tentando sobreviver”, diz.
Na região do Coroadinho, um laudo pericial judicial do Ministério Público do Maranhão determinou que “a precária rede não chega a 50% das áreas periciadas e, nas áreas que existe, chega a atender apenas 7% das moradias”.
Em decisão judicial de novembro de 2024, o Tribunal de Justiça do Maranhão (TJMA) confirmou que a Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão (Caema) e a prefeitura do município têm obrigação solidária de construir rede de esgoto no polo Coroadinho, no período de cinco anos, sob pena de multa. A sentença cita que, em bairros vizinhos (Parque dos Nobres e Pindorama), 100% dos imóveis não contam com rede de esgoto funcional, evidência da precariedade estrutural. O Brasil de Fato procurou a Caema e a Prefeitura de São Luís para obter informações sobre o andamento das obras, mas até o fechamento dessa reportagem não houve resposta.
 Esgoto a céu aberto na favela do Coroadinho | Crédito: Maria Eduarda Estrela / Foto cedida ao Brasil de Fato
Esgoto a céu aberto na favela do Coroadinho | Crédito: Maria Eduarda Estrela / Foto cedida ao Brasil de Fato
“Tudo isso para mim é racismo ambiental: quando a coleta de lixo não passa, e nossas tias queimam o lixo no quintal. Há um acúmulo de desigualdade também, de racismos, que vão proferindo, alcançando essas mulheres negras. Eu trago muito a reflexão das mulheres negras da minha família”, destaca em referência à perpetuação dos desafios enfrentados há gerações.
“Sonhamos, sim, com a política de reparação, com a política de acessibilidade para as periferias, com políticas de moradia, com políticas de proteção ao território. A gente sonha com política de saneamento básico, que é o básico, acessar a água, ter acesso a água, ali na torneira, sem ser água de poço artesiano. A gente tem sonhos, né? Sonhos do bem viver”, ressalta.
Para resistir às violências raciais e ambientais no Coroadinho, Julianna fundou A Casa das Pretas, que trabalha contra todas as formas de desigualdades, preconceitos e discriminações que afetam diretamente as mulheres negras. O coletivo atua, entre outras frentes, na preparação da comunidade para emergências climáticas.
“Preparar lideranças comunitárias para serem líderes climáticos, porque a galera que tá no território sempre soube o que é desastre ambiental, o que é justiça climática, o que é racismo ambiental, talvez não com esses nomes, mas sabe na pele, no dia a dia, o que é passar por todos esses atravessamentos, essas injustiças, essa falta de acesso”, pontua.
Da COP à Marcha das Mulheres
O tema da justiça climática ocupa lugar de destaque na 2ª Marcha Nacional das Mulheres Negras, realizada nesta terça-feira (25) em Brasília (DF). No manifesto “Quando a Terra Clama, Somos Nós”, as organizadoras denunciam que a crise climática não é neutra: ela atravessa cor, gênero e território para atingir de forma desproporcional mulheres negras, quilombolas, comunidades tradicionais e periféricas. Segundo o texto, a poluição — seja por queimadas na Amazônia, pela contaminação da água e do solo por agrotóxicos, ou pela mineração predadora — é parte de um “modus operandi do racismo ambiental”.
A pauta da justiça climática na marcha reflete também uma proposta de reparação concreta: o manifesto exige que o Estado reconheça o racismo ambiental como eixo central de políticas públicas, garantindo direitos básicos como ar limpo, água potável, alimentação saudável e uma vida digna para populações negras, indígenas e historicamente excluídas.
Na esteira dessas lutas, a COP 30, realizada em Belém, representou um passo histórico: pela primeira vez, os documentos finais da conferência citaram explicitamente os afrodescendentes em temas centrais como Transição Justa, Plano de Ação de Gênero, Objetivos Globais de Adaptação e no “Mutirão” das negociações. Além disso, na Cúpula de Líderes, foi assinada a Declaração de Belém de Combate ao Racismo Ambiental, com participação direta de chefes de Estado e articulação do Ministério da Igualdade Racial.
Esse reconhecimento formal dos impactos específicos enfrentados por populações negras abre caminho para políticas climáticas mais inclusivas, embora ainda haja demanda por ações concretas que traduzam esse avanço discursivo em justiça material.
Para a liderança quilombola e agricultora ribeirinha Claudete Costa, conselheira do Instituto Mapinguari e presidente da associação dos agricultores do Curiaú (AP), essa lacuna se traduz na falta de escuta real.
“Você não enxerga dentro da comunidade nenhuma política afirmativa. Dão alguns cursos, dão algumas formações, porém eles não vêm fazer a escuta da comunidade. Porque o que vale de uma política pública é ela ser afirmativa, ela precisa ter a escuta da comunidade. Se não tem a escuta da comunidade, não tem como essa política ser afirmativa”, atesta.
Segundo Claudete, para combater o racismo ambiental na Amazônia contra mulheres negras, o que se precisa desenvolver não é apenas a política — mas o cidadão que possa enxergar e escolher essas políticas como ferramenta de mudança.
“As políticas afirmativas que vêm para dentro das comunidades vêm com cunho partidário. Ela não é uma política social ou de governo; ela é uma política de partido.”
Nos últimos anos, o governo federal brasileiro retomou a articulação de uma agenda voltada ao enfrentamento do racismo ambiental e à promoção da justiça climática no âmbito da Amazônia Legal.
Em 2023, com a criação do Ministério da Igualdade Racial (MIR), políticas públicas foram retomadas com enfoque racial, ainda que sem o recorte específico de gênero. Em agosto de 2023, foi instituído o Comitê de Monitoramento da Amazônia Negra e Combate ao Racismo Ambiental, em parceria entre o MIR e o Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima (MMA).
O colegiado foi criado como instância interministerial e participativa, voltada a formular medidas concretas que priorizem populações negras e tradicionais atingidas por desmatamento, secas e enchentes.
*Reportagem produzida no âmbito do programa de microbolsas de jornalismo Marcha das Mulheres Negras 2025, promovido pelo Brasil de Fato e pela Fundação Rosa Luxemburgo.