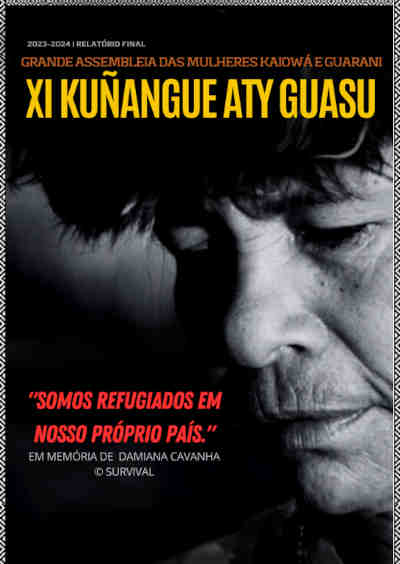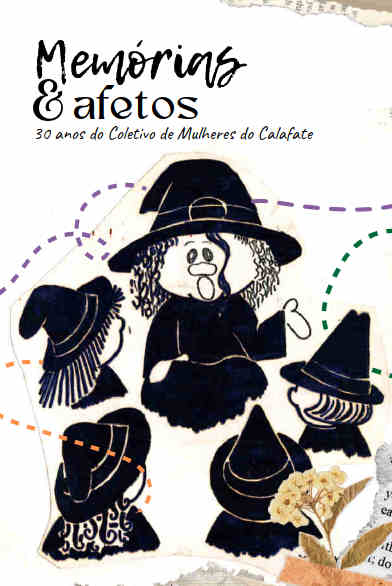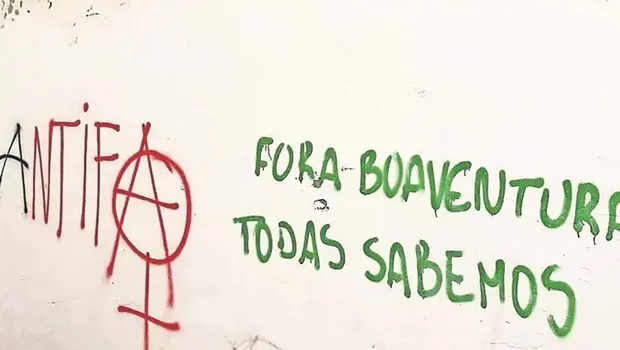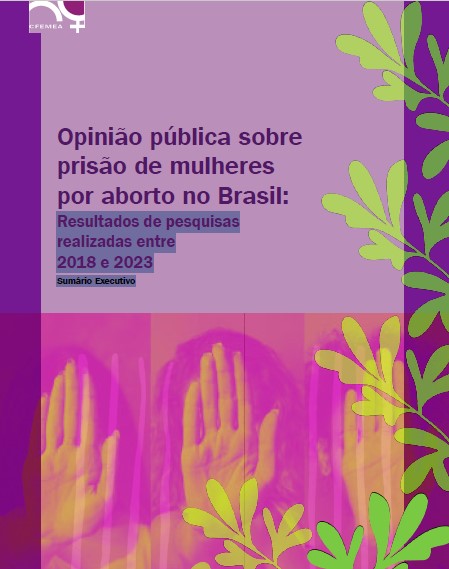Casos de famílias que tiveram os filhos retirados pelo Estado acendem um alerta


O acolhimento institucional é uma medida provisória e que só deve ser adotada em situações excepcionais. Isso é o que prevê o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA). Mas, nos últimos anos, casos de famílias em situação de vulnerabilidade social que tiveram os filhos retirados pelo Estado acenderam um alerta: muitas vezes a pobreza é motivadora para a decisão de agentes do Sistema de Garantia dos Direitos da Criança e do Adolescente. E, em várias situações, a omissão do próprio Estado ao não garantir direitos básicos é impulsionadora de situações de vulnerabilidade.
Leia mais:
150 dias de desespero: a luta de uma mãe contra o Estado para recuperar a filha
A defensora pública e dirigente do Núcleo de Defesa da Criança e do Adolescente da Defensoria Pública do Estado do Rio Grande do Sul, Andreia Paz Rodrigues, acompanha vários processos que culminaram em acolhimento. Para ela, infelizmente, o acolhimento acabou se tornando corriqueiro em situações nas quais os agentes públicos não compreendem a dimensão das dificuldades enfrentadas pelas famílias. “O que deveria ser feito, primeiro, é verificar a situação da família. Mas a gente percebe que os procedimentos anteriores ao acolhimento não acontecem e temos muitos casos que deveriam ser exceções e acabam se tornando comuns.”
A legislação prevê que o acolhimento deve ser utilizado como forma de transição para reintegração familiar ou, caso isso não seja possível, antes da colocação da criança em uma família substituta. No Sistema Único de Assistência Social (SUAS), o acolhimento institucional está enquadrado como uma medida de alta complexidade e só deve ser adotado quando todas as demais alternativas se mostraram inadequadas.
Para que não haja violação de direitos, o desenho do SUAS estabelece atendimento socioassistencial também em nível básico e de média complexidade. Algumas alternativas para que crianças e adolescentes não sejam separados de suas famílias são, por exemplo, a retirada do lar de pessoas acusadas de abusos em situação de denúncia de violência; o acompanhamento de assistentes sociais e do conselho tutelar junto à família; ou o acolhimento institucional de mães e filhos, sem a separação.
A psicóloga Claudia Cabral, fundadora da Associação Brasileira Terra dos Homens, é uma das mais renomadas profissionais atuantes na área de crianças afastadas de suas famílias e há décadas trabalha para que o caráter excepcional da medida de acolhimento seja respeitado. Para Claudia, a ausência de capacitação de agentes do Estado para compreender a complexidade das dinâmicas familiares acaba gerando injustiças e violentando famílias. “É preciso entrar em cada caso e nunca fazer nada de forma compulsória ou generalizada. Mas o maior entrave no Brasil é ter equipes suficientes e com conhecimento necessário para entrar em cada caso e proteger a criança. Entendendo que a separação é uma exceção, a última medida”, diz.
De acordo com o painel do Sistema Nacional de Adoção e Acolhimento do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), em todo o Brasil, mais de 30 mil crianças e adolescentes estão acolhidas. O Rio Grande do Sul é o segundo estado brasileiro com maior número de acolhimentos, com mais de 3,4 mil casos.
O relatório “Destituição do Poder Familiar e Adoção de Crianças” publicado pelo CNJ, no ano passado, elenca que a “negligência” é a causa mais frequente para o acolhimento. O documento denuncia que, em muitas situações, o acolhimento institucional acaba erroneamente se convertendo em destituição do poder familiar em “ocasiões nas quais ações de destituição ocorreram pautadas em avaliações subjetivas e sem a realização de ações de qualidade que auxiliariam as famílias no processo de cuidado de seus filhos, em especial no que toca a bebês, que seriam mais rapidamente colocados em famílias substitutas”. Claudia é bastante crítica quanto ao emprego do conceito de negligência em casos de acolhimento de crianças.
“Ser negligente é não estar atento aos cuidados com seu filho. Agora, tem muita gente pobre, com necessidade de trabalhar, e que vai, eventualmente chegar atrasado ao buscar a criança na escola e isso será anotado como negligência. Só que a vida é dura e o conceito de negligência é confundido com situações de pobreza em casos em que o sistema não investigou o suficiente”.
Andreia também enfatiza o caráter subjetivo do termo “negligente” e o despreparo de muitos agentes em lidar com as diferentes realidades: “Tivemos um caso no interior do estado em que a família não tinha banheiro dentro de casa. Apenas fora de casa. E houve um acolhimento por negligência. Tudo é colocado como negligência, quando muitas vezes não é e o que a família precisa é conseguir um benefício social para se estruturar”.
O estudo do CNJ também indica que há, frequentemente, uma “culpabilização da família pelos órgãos julgadores e pelos atores do sistema de garantia de direitos”. E destaca ainda a preocupação com o aumento dos casos de acolhimento e destituição do poder familiar a partir de uma transformação nas políticas de proteção da infância em nível internacional.
Porto Alegre possui diferentes instituições de acolhimento de crianças: abrigos municipais, conveniados e casas lares. A estimativa é de que cerca de 1200 crianças e adolescentes estejam acolhidas nos espaços. E, assim como no Brasil, a principal motivação para o abrigamento é a negligência dos pais. “A maior questão é o critério de decisão pela retirada da criança da família. O maior entrave que temos é a capacidade das pessoas que vão tomar essa decisão e que precisam investigar a fundo as relações familiares para ter certeza de que não tem outro jeito”, afirma Claudia.
Escutar as histórias de mães que foram separadas do contato com os filhos pelo Estado e entender as formas de violência produzidas pelo poder público é um dos trabalhos desenvolvidos pela pesquisadora Mônica Pontes, da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Ela é uma das estudiosas que tem investigado a separação compulsória de mães e filhos em situação de vulnerabilidade e afirma: esse tipo de caso “não é incomum”.
Mônica é uma das pesquisadoras e ativistas que tem lutado em um dos estados mais emblemáticos nesse tipo de caso: Minas Gerais. Em Belo Horizonte, entre 2014 e 2017, vigorou uma portaria da Vara Cível da Infância e Juventude determinando a obrigatoriedade da rede de maternidades SUS em informar ao Judiciário os casos de “dependência química ou trajetória de rua” de genitores de recém-nascidas. Essas informações motivaram a expedição de várias ordens de recolhimento preventivo e tornaram o acolhimento compulsório prática recorrente na capital mineira.
Em 2022, o Fórum Mineiro de Saúde Mental analisou os casos de acolhimento institucional de bebês oriundos direto de maternidades públicas. Entre as conclusões: menos de 15% dos casos analisados entre 2013 e 2019 apresentavam “justificativas pormenorizadas pautadas em situações reiteradas de falta, omissão ou abuso por parte dos pais ou responsáveis”. Na avaliação dos pesquisadores, a maioria dos casos apresentava “pressupostos genéricos que não demonstram o concreto risco a que a criança estaria exposta quando sob o cuidado de seus genitores”. A prática só foi interrompida após pressão social e intervenção do Conselho Nacional de Justiça.
Para Mônica, a diferença social, econômica, cultural e racial é crucial para que agentes do Estado determinem quais pais e mães têm capacidade de cuidar de crianças – especialmente quando são agentes da saúde e do Judiciário. “São pessoas cuja origem é a classe média e que vão produzir um olhar sobre o que é o ideal de maternidade. E isso tem uma ligação muito forte com o ideal burguês, com o ideal cristão de família. E ao entrar em contato com histórias diferentes, de antemão, compreendem que situações diversas são situações de violência e que a criança não pode viver de forma diferente do ideal.”
Belo Horizonte não é o único lugar do país a registrar essas violências. Recentemente, um caso adquiriu destaque em Porto Alegre. Em julho de 2022, o Matinal Jornalismo publicou a história do bebê Bruno, separado dos pais logo após o nascimento. Em um processo perpassado por estigmas relacionados à condição socioeconômica e de saúde dos familiares, os pais e avós da criança lutavam há 30 dias para cuidar da criança recém-nascida. A juíza responsável pelo caso era Paula de Mattos Paradeda – a mesma do episódio envolvendo uma criança de dois anos abrigada há mais de 150 dias.
Em Florianópolis, a separação de um bebê recém nascido da mãe, promovida pelo Conselho Tutelar, virou caso de polícia, em 2021. A mulher não chegou sequer a amamentar a criança e o principal argumento para a medida foi o fato da genitora ter vivido em situação de rua anteriormente. À época, movimentos sociais denunciaram a violência obstétrica e o racismo institucional – a mãe é uma jovem negra e pobre.
Nos últimos dias, duas decisões do Superior Tribunal de Justiça demonstraram a fragilidade de algumas medidas adotadas em primeira instância. Em um dos casos, o encaminhamento imediato de crianças venezuelanas para adoção foi suspenso. No outro processo, uma criança recém-nascida foi retirada da mãe e encaminhada para o acolhimento. De acordo com a decisão do colegiado, a determinação foi prematura e “não observou os preceitos legais”.
“O problema é que se separa rápido e que muitas vezes se culpa o genitor. E, mesmo que a criança retorne para a casa, essa ruptura já marcou a vida da criança, já marcou o comportamento dela”, afirma Claudia.
A demora na tomada de decisões também tem consequências na vida de mães e crianças, como conclui a psicóloga: “O sistema tem seu próprio tempo burocrático, que não acompanha o tempo de vida da criança. A urgência e as sequelas que podem estar sendo criadas para uma criança por ter se desvinculado da família e que, de tão pequena, não entende nada do que está acontecendo”.